A frustração foi protagonista nessa história sobre minha primeira tentativa de escrever um livro. Isso aconteceu em 2014 e pouquíssimas pessoas souberam que esse livro um dia estava sendo escrito. Era quase uma missão secreta, afinal, a tarefa era escrever a biografia de Vânia Cavalera, mãe dos irmãos Max e Iggor Cavalera, fundadores e ex-integrantes do Sepultura.
Parecia que eu seria presenteado pela vulgaridade da rotina naquela tarde de trabalho no escritório da minha produtora Som do Darma. Até que o telefone tocou. Era Vânia Cavalera. “Precisamos marcar um café qualquer dia desses”, disse ela com sua sempre calma voz. “Que tal semana que vem, Vânia?”, sugeri. “Marcado!”.
Assim que desliguei o telefone perdi qualquer suposto controle sob minha ansiedade e começaram as indagações: “O que será que a Vânia quer comigo?”. A última vez que tinha a encontrado foi em 2007 na ocasião de uma matéria para a minha revista Valhalla, na época lançada como Rock Hard-Valhalla. Haviam passados sete anos desde esse encontro, embora as lembranças daquele dia ainda estavam muito vivas em minha memória. Na ocasião, passamos várias horas conversando sobre o Sepultura e a vida em geral. Publicamos apenas 10% da conversa numa matéria de três páginas. Os outros 90% pareciam ter ficado para uma história a ser contada.

Nosso encontro em 2007 durante a matéria para a Valhalla
Na medida que o dia do encontro se aproximava, as indagações eram cada vez mais constantes: “O que será que a Vânia quer comigo?”. Fazia essa pergunta logo que me levantava pela manhã. Foi então que uma resposta surgiu como um insight: “Ela quer escrever um livro!”.
O primeiro café que tomei com Vânia Cavalera desde nosso reencontro teve um sabor tenro e suave. “Eu passei alguns anos registrando fatos importantes da minha vida e agora preciso da sua ajuda para transformar isso num livro”. As palavras de Vânia tinham algo de sagrado para mim naquele momento. “Será uma honra ajudá-la”, respondi com sentimento reverencial.
Durante nossas conversas preliminares, entre palavras que despertavam entusiasmo pela oportunidade de realizar aquele trabalho juntos, surgiam observações mais urgentes. “Eliton, observe aquelas duas garotas na outra mesa. Enquanto uma mexe no celular, a outra toma seu café olhando para o nada, com a cabeça na lua. Elas não estão celebrando o momento juntas”. Vânia me dava muitos exemplos de sabedoria.
Depois de muitos encontros, horas e horas de conversa e um vasto material que ela me entregou como referência, inclusive a cópia com dedicatória do “My Blood Roots” que o Max tinha a presenteado, chegou o encontro derradeiro onde eu pude trazer os primeiros esboços do que seria o livro. Assim que leu, Vânia não hesitou. “Eu sabia que você era a pessoa certa. Mas vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Nada de literatura pseudo-intelectual, quero que qualquer pessoa, de qualquer nível social ou cultural, possa ler e absorver bem o livro. Pois se minha história servir para confortar o coração de uma só pessoa que seja, minha missão estará cumprida”.
“Cavalera Incondicional: Diálogos sobre a vida de Vânia Cavalera” é um livro que nunca será publicado. Meu primeiro livro foi um natimorto da literatura brasileira. Foi interrompido quando estava quase no fim! “Recebi ordens da diretoria lá de cima e, infelizmente, teremos que parar com o livro, Eliton”. Essas foram as últimas palavras que ouvi de Vânia Cavalera.
A ausência, principal qualidade do pós-morte, já tinha sido incluída na nossa relação mesmo antes de Vânia morrer.
No dia de sua morte eu não fiz nenhum post nas mídias sociais, mesmo tendo sido seu confidente sobre os mais íntimos detalhes de sua vida pessoal, inclusive sobre a banda e a relação com seus filhos, mas a frustração do livro não publicado me fez revisitar o trabalho e eis que, ao reler as palavras de Vânia – “se essa história servir para confortar o coração de uma só pessoa que seja, minha missão estará cumprida” – passei a aceitar, com o coração confortado, a condição de ter sido o único leitor do meu livro.
Amor fati.








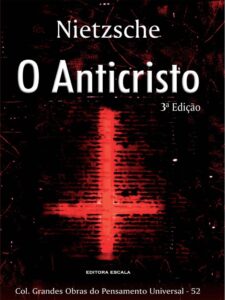


 Para as bandas economicamente grandes, aqui me refiro aquelas bem famosas que fazem shows e turnês o ano todo, as consequências da pandemia por coronavírus estão sendo mesmo problemáticas. O setor, que já sofreu duros golpes e transformações por conta da digitalização da música, agora também tem sob ameaça sua principal fonte de receitas, que são os shows ao vivo.
Para as bandas economicamente grandes, aqui me refiro aquelas bem famosas que fazem shows e turnês o ano todo, as consequências da pandemia por coronavírus estão sendo mesmo problemáticas. O setor, que já sofreu duros golpes e transformações por conta da digitalização da música, agora também tem sob ameaça sua principal fonte de receitas, que são os shows ao vivo.